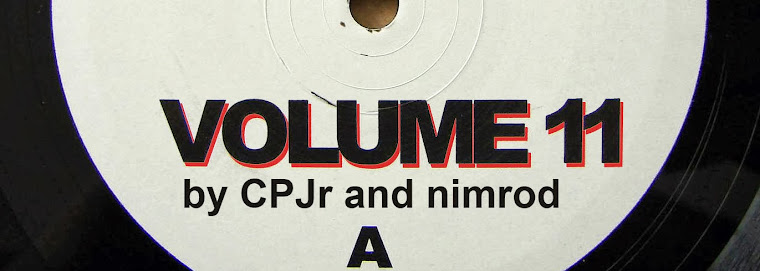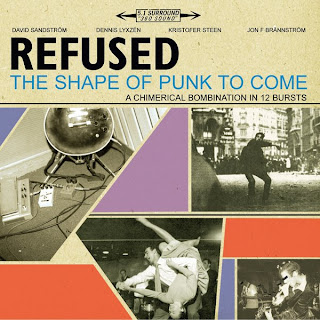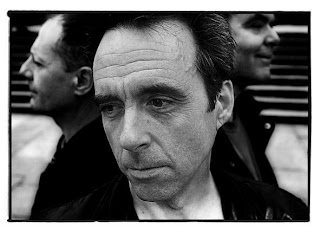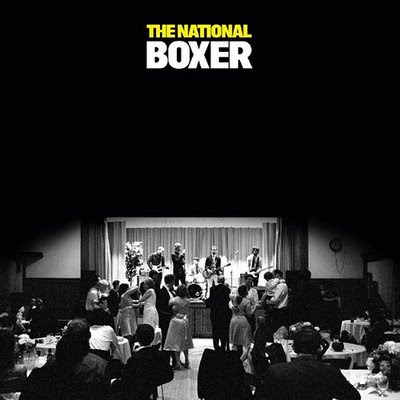De uma feliz sucessão de encontros inusitados, em 1990 nasceu um álbum insólito: Primeiramente entre a música de Kurt Weill e o teatro de Bertolt Brecht, nos anos 20. Este produto genial nas graças da banda industrial suíça humildemente auto-intitulada Young Gods, 70 anos depois gerou uma obra prima de segunda ordem. Com ousadia fáustica processaram em sua maquinaria industrial canções de duas das mais representativas e vocalmente difíceis peças musicais do teatro de todos os tempos: Die Dreigoschenoper e Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (traduzidas como Ópera dos Três Vinténs e Ascenção e Queda de Mahagonny). A mordacidade com que a sordidez nos é apresentada na república de Weimar casa perfeitamente com a linguagem maquínica dos nossos dias. Até o lirismo decadente de cabaré é mantido em músicas como Seerauber Jenny (Pirata Jenny), adquirindo feições mais bestiais, sem dúvida, no entanto fiéis as nuances e clímax originais (a versão gravada mais célebre pode ser encontrada para download na voz de Lotte Lenya, que fez o papel de Jenny na estréia em 1931). Para ilustrar o devaneio assassino da garçonete humilhada e a vingança marítima que massacra a cidade, os sintetizadores recriaram a atmosfera do estabelecimento degenerado, o olhar amargo pela janela, a aproximação da enorme embarcação pelo oceano, os canhões lançando fogo a cidade, o veredito final de morte. Em Salomon Song o gênio poético de Brecht nos diz que ninguém está a salvo, nem na sabedoria de Salomão, nem na coragem de Cesar, nem na luxúria de Mackie Messer.
De uma feliz sucessão de encontros inusitados, em 1990 nasceu um álbum insólito: Primeiramente entre a música de Kurt Weill e o teatro de Bertolt Brecht, nos anos 20. Este produto genial nas graças da banda industrial suíça humildemente auto-intitulada Young Gods, 70 anos depois gerou uma obra prima de segunda ordem. Com ousadia fáustica processaram em sua maquinaria industrial canções de duas das mais representativas e vocalmente difíceis peças musicais do teatro de todos os tempos: Die Dreigoschenoper e Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (traduzidas como Ópera dos Três Vinténs e Ascenção e Queda de Mahagonny). A mordacidade com que a sordidez nos é apresentada na república de Weimar casa perfeitamente com a linguagem maquínica dos nossos dias. Até o lirismo decadente de cabaré é mantido em músicas como Seerauber Jenny (Pirata Jenny), adquirindo feições mais bestiais, sem dúvida, no entanto fiéis as nuances e clímax originais (a versão gravada mais célebre pode ser encontrada para download na voz de Lotte Lenya, que fez o papel de Jenny na estréia em 1931). Para ilustrar o devaneio assassino da garçonete humilhada e a vingança marítima que massacra a cidade, os sintetizadores recriaram a atmosfera do estabelecimento degenerado, o olhar amargo pela janela, a aproximação da enorme embarcação pelo oceano, os canhões lançando fogo a cidade, o veredito final de morte. Em Salomon Song o gênio poético de Brecht nos diz que ninguém está a salvo, nem na sabedoria de Salomão, nem na coragem de Cesar, nem na luxúria de Mackie Messer.A tão interpretada Mackie Messer (Mack the Knife, mais conhecida na voz de Louis Armstrong entre milhares de outros) aqui é desfigurada com sintetizadores distorcidos, que inacreditavelmente prescindem de guitarra, e entoado por um dramático barítono salivante. A interpretação vocal de Franz evidencia o que o distingue de qualquer outra invocação industrial, um misto de lirismo e guturalidade. September song, outra canção popularizada em versões tão aberrantes quanto as de James Brown e Chet Baker, ou Lou reed, ganha aqui um arranjo mínimo, outonal. Alabama Song, também conhecida pela charmosa versão do Doors, aqui ressurge como uma devassa trupe de saltimbancos carregada de cacarecos perseguindo excessos da carne.
A fértil colaboração de Weill com o poeta norte americano Ogden Nash é contemplada em Speak Low. Na releitura do Young Gods temos a beleza da letra recitada pela voz de Franz agora mais pura, e ao fundo, a sinfonia de uma máquina de misturar concreto. Speak low, darling, When you speak love. Love is a spark lost in the dark, too soon.
A produção tem o brilho de um disco ao vivo, o que ressalta a crueza e a simplicidade da composição original. Logo, pode-se dizer sem medo de errar, que os pretensos "jovens deuses" conseguiram voar sem queimar as asas.